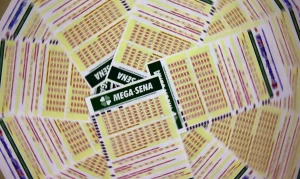JOÃO E MARIA NAS TREVAS
Episódio XI de As Crônicas de Aleph
“Amanhã também eu – a alma que sente e pensa, o universo que sou para mim – sim, amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas ruas (…) E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos na quotidianidade de ruas de uma cidade qualquer.”
Fernando Pessoa
Aconteceu de tudo em 1968: os estudantes se revoltaram e armaram barricadas em Paris, não para tomar o poder, mas para dele debochar. Outra ordem caduca começou a ser contestada no leste europeu com a “Primavera de Praga”, que os tanques do império soviético sufocaram. Por toda a parte a autoridade viu-se desafiada: em casa, na escola, na cama, no trabalho, nos palácios. Esse mesmo ímpeto varreu pela América. Já o Brasil estancara. Com os estudantes primeiro nas ruas, depois na cadeia, o regime trancafiou o país. A passeata dos cem mil no Rio de Janeiro e um discurso infantil do deputado Márcio Moreira Alves propondo o boicote ao sete de setembro irritaram os militares e serviram de gota d’água para o Ato Institucional Nº. 5. Com ele o Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, fechou o Congresso, cassou mandatos e censurou a imprensa. A partir daí percebeu-se que esta seria uma longa ditadura. A tortura, que não constava do texto do AI-5, continuou regendo a escrita dos arquivos confidenciais dos quartéis. Vetou-se a impetração de habeas-corpus, pois o Ato Institucional proibia a apreciação judicial desta garantia nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.
Sem direito a habeas-corpus, sem comunicação de prisão, sem prazo para a conclusão do inquérito, o preso ficava absolutamente indefeso nos órgãos de segurança, desde o dia do sequestro até quando passasse à Justiça Militar. Indefeso e incomunicável, o detido era obrigado a confessar aquilo que os seus interrogadores queriam depois de longas sessões de tortura. Obtidas as confissões os inquéritos eram “legalizados” e as prisões comunicadas.
Naquele tenebroso período eu cursava o Ensino Clássico no então conhecido Colégio Público Padrão. O Colégio era reconhecido pelos agentes da ditadura militar como um grande e perigoso foco de infiltração comunista, razão pela qual fora decretado o fechamento do Grêmio Estudantil. Em resposta, fundamos, eu e alguns poucos colegas, o CAJU — Centro de Atuação Juliana. Promovíamos palestras abertas com conhecidos jornalistas que não comungavam com os ditames do Regime de Exceção. O CAJU editava e distribuía um jornal panfletário onde eu redigia meus primeiros textos de opinião.
A sala de aula não guardava simetria. Nela quarenta colegiais buscavam entender o discurso dos colegas mais exaltados. As discordâncias entre os polemistas ganharam perfil cada vez mais acirrado. Este era o clima predominante quando ela, soberana, atravessou a extensão da sala de aula. Dispôs alguns livros sobre a mesa. Escolheu um deles, abriu-o e, impassível ao tumulto em razão da contenda política, com a voz cálida e concentrada recitou:
— “Je suis comme le roi d’um pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant três vieux,
Qui de ses précepteurs méprisant les courbettes,
S’ennuie avec ses chiens comme avec d’autres bêtes
Rien ne peut l’égayer, ni gibier, ni falcon,
Ni son peuple mourant en face du balcon…”
(“Sou como um rei sombrio de um país chuvoso,
Rico, mas incapaz, moço e no entanto idoso,
Que, desprezando do vassalo a cortesia,
Entre seus cães e os outros bichos se entedia.
Nada o pode alegrar, nem caça, nem falcão,
Nem seu povo a morrer defronte do balcão”…).
Que poderes possuía a voz que me transportara nos versos do Spleen 3 de Les Fleurs du Mal a Paris de Charles Baudelaire; à Paris que ainda depurava as pedras sob o patíbulo maculadas pelo sangue de Maria Antonieta? Que sentimentos foram aqueles — absurdamente intensos — que invadiram minha alma em mágica e sinistra alquimia?
Angélica, porteña, Mestra em Língua Francesa, trazia nas veias e no porte pequeno o efervescente sangue ancestral das terras hispânicas. Os olhos amendoados, o nariz talhado pelo cinzel do Grande Escultor Universal em dia de sublime inspiração, os lábios carmins dispostos nas faces excessivamente pálidas lembravam as luzes e sombras da Andaluzia. A voz melodiosa contrastava com os sombrios versos do mestre do simbolismo francês. Haveria algo a mais na estampa e na sonoridade da voz de Angélica que me arrebatara com a força de um vendaval? A paixão que não logrei velar? Tal Capitu, Angélica Elisa, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, fingira não perceber.
Voltado às passeatas contra a ditadura militar não logrei aprovação por média. Fiquei para a prova final de Francês, na qual 7,5 seria a nota mínima que me alçaria ao terceiro e último ano do Clássico.
Na noite do exame Angélica, pelo perverso prazer em me causar padecimento, ordenou-me que me sentasse na primeira fila. Estendeu-me um Sonho de Valsa e com o sorriso dos mais galhofeiros disse-me, — “Prova-o. Vai te deixar mais calmo!”, ao que de imediato tepliquei, — “Não tanto quanto dançar um tango em Corrientes…”. A turma ficou em suspense. Angélica retomou o tom professoral e taxativo: — “Vocês têm apenas vinte minutos para encerrar a prova!”.
No dia seguite o mural da sala de aula exibia as notas das provas. “Conquistei” os exatos 7,5. Descobri que naquela noite Angelica retornaria a Buenos Aires. Voei pelas escadarias do Colégio. Um táxi havia recém deixado um passageiro. Pedi ao motorista que se aligeirasse, eu tinha apenas 10 minutos para chegar à Rodoviária. Levava nas mãos um ramalhete de Amor-perfeito. O motorista, nostálgico, “filosofou”: — “Ah, o que faz o amor!”. A vontade que eu tive fora a de responder-lhe: — “Amor, porra nenhuma, eu quero é chegar a tempo!”.
Desembarquei no lado oposto ao dos boxes de partida. Desvairado, atravessei a Rua da Conceição. O ônibus da Viação Flecha Bus já engrenara a marcha. Angélica não acreditou no que estava presenciando: o amalucado aluno a agitar uma ramada de Amor-perfeito e clamando:
— Je te recontrerai à la Buenos Aires*…
Pétalas do ramalhete cobriam mansamente as poças de óleo deixadas pelos autobuses…
Após as vivências no CAJU fora o teatro o propagador para que eu expressasse minhas inconformidades com os padrões impostos por uma sociedade sufocada pelo autoritarismo da hora. “Beto“ — rufião que vizinhava com o tráfico pesado de droga — fora a personagem da peça A Fossa e que me conferiu premiação de Melhor Ator. Os ensaios do Teatro Novo, realizados no salão paroquial da Igreja São Sebastião granjearam as bênçãos do pároco, homem à frente do seu tempo, que vislumbrara no texto o grito de alerta dos deserdados do sistema.
Após quatro estressantes meses de ensaios chegara o dia da Pré-estreia. Esta compulsória e exclusiva apresentação servia para a concessão do Alvará que somente era concedido pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas. Naquela noite, restando uma semana para a estreia, sentaram-se na primeira fila os três funcionários daquele Departamento ladeados pelos dois silenciosos e sinistros arapongas do Serviço Nacional de Informações — SNI. Eu, por prudência, me deixei permanecer oculto atrás de uma das vigas de sustentação. A cada olhar entre si dos agentes do SNI os censores arrancavam folhas e folhas do script e com desdém as lançavam ao chão. Ronald R., o autor e diretor do Grupo, em tempo recorde reformulou o que fora vetado. E o elenco, superando limites, ensaiou as novas falas, caso contrário…
Calem-se!