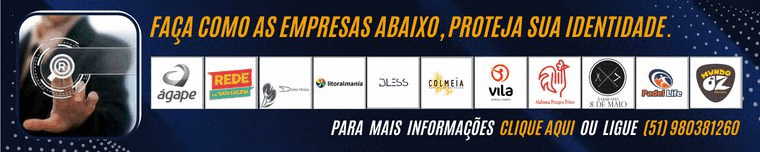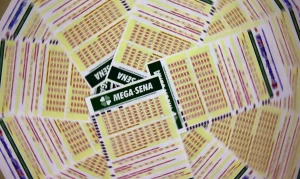Saí de Porto Alegre para acudir um irmão em estado terminal em Minas Gerais, Coronel Fabriciano. Eu e a mulher dele não nos conhecíamos. Negrona preta, testa alta, olhos grandes e de vigorosas mãos, me recebera afetuosamente. Ela mudou o enfoque de seus olhos sobre mim quando na primeira noite na casa deles, como de costume, tomei meu caderninho para anotar sobre a viagem, o estado de saúde dele que acabou morrendo, enfim. Simplória ao falar, apesar das poucas letras, com seus olhos vigilantes denotava uma percepção intuitiva a se considerar.
– Pensei que tu fosses normal! – exclamou Alzira alterada – Teus outros irmãos também escreviam o tempo todo e isto me alucinava. Uma das tuas irmãs virava a noite escrevendo. Tinha dias que ela não comia, não dormia, não saía de casa, somente escrevia – E perguntou com ar inquisitorial: – O que é que vocês tanto têm para escrever?
Como minha mãe, esta cunhada perguntou mas não pediu para ler nada. A pergunta dela me reportou à infância. Entre castigos e camassadas de pau que tomei, minha mãe me dava um caderno e me obrigava a sentar num canto e escrever. Numa das mãos ela tinha lápis e caderno, na outra um pedaço de pau que ela batia nas pernas e subia até minha cabeça enquanto eu não começasse a escrever. Se perguntasse sobre o que escrever receberia uma paulada, se eu demorasse demais, outra. E se chorasse “sem motivo”? A partir da pergunta desta cunhada não lembrei se nossa mãe fazia o mesmo com meus irmãos. Lembro-me de escrever várias páginas da mesma palavra. Ao enjoar escrevia outra, quem sabe duas ou três? Na escola quando obrigavam a gente a escrever cem vezes uma frase educativa tipo “não devo fazer mais isto”, não entendia, mas fazia rindo.
– Briguei no Hospital para a enfermeira deixar na cabeceira do teu irmão o caderninho dele e caneta. – Disse ela do alto de sua inocência nervosa – A enfermeira estranhou, torceu o nariz, mas permitiu. Teu irmão deve estar escrevendo alguma coisa na UTI.
Não sabia que em comum com meus irmãos, só o assunto tabu em toda família, a modernamente chamada depressão, jamais interessada à sociedade em geral nem aos próprios negros enquanto era apenas banzo com suas formas de manifestação e consequências de dor paralisante. Param o tempo, os sentidos e as vontades num determinado ponto de nossa psiquê, e para sair dali, ninguém faz isto rindo à toa. Minha mãe e a cunhada das exclamações tinham o mesmo grau de ansiedade, transcendendo à ideia de simples curiosidade ou castigo. Certa vez perguntei a minha mãe se ela iria ler o que eu deveria escrever: – Não! – respondeu ela peremptoriamente. – Só não te esqueça de uma coisa, escreveu não leu, o pau comeu! Como ninguém iria ler me senti livre para escrever sem compromisso de estar certo; tomei o humor como bengala e misturei realidades com sonhos onanísticos. Realidade e fantasia misturadas com igual intensidade compunham doença para arregalar qualquer cunhada.
Eu me senti divertido e doente ao ver a cunhada mineira enervar-se de séria preocupação com rabiscos não com as letras de um artista. Tinha por habito escrever até altas horas como se tivesse compromisso de contrato ou fio de bigode. Divertido ao começar histórias sem saber como terminariam, endoidecido ao escrever de maneira inconsciente tipo mediunidade de hospício. Nas décadas 50/60, areal da Baronesa e arredores, foco do carnaval de rua e das religiões de matriz africana de chão batido, axós de chitão, tambores afinados sem estalidos. Com a preocupação de ter assunto para quando minha mãe exigisse meu trabalho eu perguntava sobre tudo, olhava tudo levado por minha mãe a igrejas e sessões de umbanda porque ela precisava – me corrigir! Parecia perceber que um dia uma cunhada perguntaria sobre o que eu teria tanto para escrever.
Eu me sentia doente também quando ao deitar para dormir 4.00 hs da manhã a cabeça divagava. No inverno úmido de Porto Alegre pela preguiça de levantar para fazer anotação de ideias, decidia não levantar. Amanha vou me lembrar. Frio, preguiça e revolta para não levantar. Não pregava sono. O dia clareava, 6.00 hs da manhã, não dormi, cabeça doendo, não fiz anotação e de tanto pensar noutras coisas esqueci todas ideias que eu tive. Entre outras maquinações para não escrever tanta bobagem, a idade, o tempo, o sofrimento visto e mal compreendido me ensinaram que não bastava ter talento e fazer arte, ciência ou politica, por vaidade; agregue-se às nossas habilidades o atendimento as exigências de nosso tempo.
No período pré-carnaval ocorriam às chamadas muambas, ensaios que juntavam multidões. Os menores de idade fugiam do Juizado de Menores. Eu fugia para ir na muamba e da minha mãe. Por vezes voltei para casa na ponta dos pés trazido por minha mãe pendurado pelas orelhas. Aí eu escrevia panfletos de cachorro raivoso. Doze ou treze anos de idade eu já escrevia por mim mesmo e deixava cadernos e folhas de maneira que minha mãe pudesse ler. Trazido pelo pescoço compunha enredos que em casa eu anotava. Formas de expressar o que nos adoecia e de disfarçar a humana dor.
O bate boca dos meus pais me ensinaram como fazer diálogos intermináveis ao me colocar no lugar de um e do outro. Escrevi por encomenda para amigos da ultra direita política e com o mesmo sangue na caneta escrevi para os da ultra esquerda; escrevi para religiosos cristãos e para outros nem tanto; tudo a título de exercícios de maquinação da minha esquisitice. Queria chamar a atenção da minha mãe e, encasquetei já crescidinho, insistindo na leitura dela. Queria a reação dela pela censura, rejeição, crítica, elogio, sabe lá! A expectativa por sua crítica liberava as enzimas da criação moldando meu modo de raciocinar e meu comportamento. Certo dia, tanto insisti andando atrás dela pela casa que ela parou de forma quase solene, e me paralisou num choque que tomei depois como primeiro surto depressivo vez que ela olhou para mim num misto de mistério que até hoje me custa decifrar e confessou:
– Meu filho, eu não sei ler.